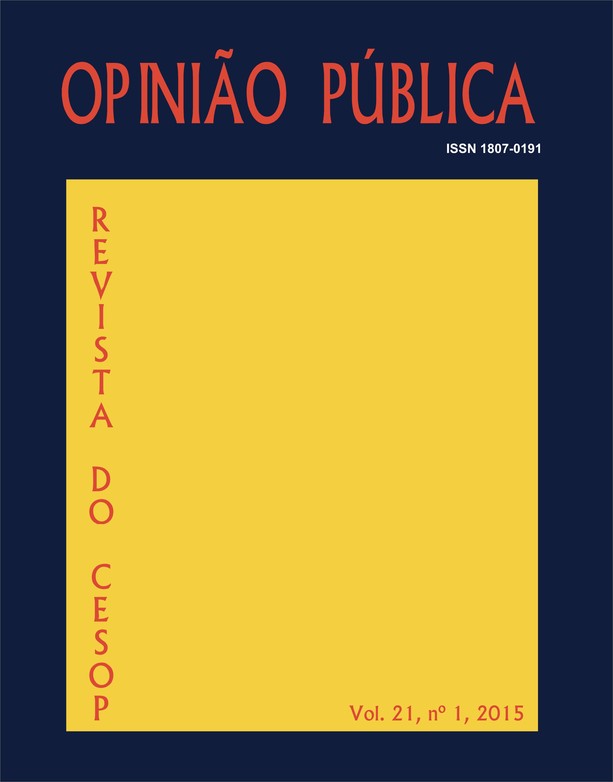Opinião Pública – Vol. 21, Nº 1 2015
Artigos desta edição
Autores: Patrick Silva, Andreza Davidian, Andréa Freitas e José Donizete Cazzolato
Os efeitos produzidos pelo método de converter votos em cadeiras têm estado no centro do debate brasileiro desde a Constituição de 1988 e a reforma política nunca deixou a agenda do debate político, dentro e fora da academia. Os argumentos, no geral, dizem respeito ao fortalecimento dos partidos e ao aumento da accountability eleitoral. Este artigo se propõe a analisar os efeitos de mudanças dos distritos eleitorais. Essas questões estão inscritas em uma discussão mais ampla sobre os impactos do sistema eleitoral no sistema político, bem como sobre o equilíbrio delicado entre governabilidade e representação. Consequentemente, estão diretamente relacionadas à qualidade do sistema democrático.
Autores: Enivaldo Carvalho da Rocha , Manoel Leonardo Santos, Mariana Batista da Silva e Dalson Britto Figueiredo Filho
Qual é o efeito do financiamento de campanha sobre o comportamento do parlamentar? Este artigo analisa a votação dos deputados federais brasileiros (1999-2007) em relação aos projetos de interesse da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Metodologicamente, o artigo combina estatística descritiva e multivariada para testar a hipótese de que quanto maior é o financiamento de campanha pela indústria, maior é a cooperação do parlamentar com os interesses desse setor. Foram utilizados análise de cluster e modelos de regressão logístico e de Poisson para estimar o efeito do financiamento de campanha sobre a cooperação do parlamentar com o setor da indústria. Os resultados confirmam parcialmente a hipótese. Não foi encontrada relação entre o financiamento da indústria e a cooperação dos parlamentares, mas confirma-se que a proporção de recursos corporativos influencia positivamente a cooperação dos parlamentares brasileiros com os interesses da CNI, controlando por diferentes variáveis. Esses resultados se alinham à literatura internacional sobre o tema, que encontra uma relação positiva entre contribuições de campanha e comportamento congressual.
Autores: Fernando Guarnieri e Fernando Limongi
Neste artigo mostramos que as mudanças na base de apoio a Lula, que se tornam mais evidentes nas eleições de 2006, são mais bem explicadas por variáveis políticas. Para isso recorremos a uma base de dados original, agregada por seção eleitoral, e estendemos a análise incluindo outros partidos e as eleições que precederam aquele pleito. Por um lado, uma explicação do que houve em 2006 precisa dar conta do que ocorreu em 2002, quando o PT chega à presidência. Por outro lado, dado o caráter composicional do voto, a razão do que ocorre com os votos do PT deve explicar o que acontece com os votos de seus adversários. Observamos que o sucesso do PT e a ampliação de sua base a partir de 2006 acontecem após a implosão do PSDB em 2002 e a ausência de adversários competitivos. As explicações que associam o novo padrão de voto em Lula com sua chegada ao poder não dão conta dessas dinâmicas. Sugerimos que um melhor esclarecimento deve privilegiar as estratégias de coordenação pré-eleitoral adotadas pelos partidos.
Autor: Pedro Cavalcante
Vale a pena ser um bom prefeito? Os eleitores premiam ou punem os atuais ocupantes da prefeitura com base na gestão fiscal? De um lado, pesquisadores da escola de Michigan argumentam que eleitores são desinformados e com pouco conhecimento político. Assim, os cidadãos tomam decisões eleitorais míopes. Por outro lado, a literatura de accountability eleitoral, sobretudo do voto retrospectivo, defende que, embora eleitores possuam informações incompletas, suas decisões eleitorais são competentes, logo, premiam ou punem políticos/partidos de acordo com o seu desempenho. No sentido de testar essas hipóteses no caso brasileiro, o artigo mensura os efeitos do desempenho fiscal das prefeituras, caracterizado pelo Índice Firjan de Gestão Fiscal, na probabilidade de reeleição em 2008. Os resultados dos modelos multivariados confirmam o voto retrospectivo, na medida em que se observam efeitos expressivos da administração orçamentária e financeira sobre as chances de reeleição dos prefeitos.
Autores: Iris Gomes dos Santos, José Geraldo Leandro Gontijo e Ernesto F. L. Amaral
Este artigo analisa os gastos estaduais em segurança pública no período de 1999 a 2010, observando principalmente suas relações com as perspectivas ideológicas dos partidos eleitos para o Poder Executivo (governador). Testou-se, sobretudo, a hipótese de que o gasto com a política de segurança pública seria maior em estados governados por partidos de direita, uma vez que parte da literatura nacional aponta para a existência de maior preocupação desse espectro político-ideológico com a função de controle social. Foram utilizados modelos de regressão multivariada que indicaram os seguintes achados: a) variação positiva dos gastos quando os partidos são de esquerda e centro, comparados aos partidos de direita; e b) relativa aproximação dos percentuais de arrecadação investidos em segurança nos estados, independentemente dos partidos nos governos.
Autores: Rubem Kaipper Ceratti, Rodrigo Fracalossi de Moraes e Edison Benedito da Silva Filho
Este artigo tem como propósito identificar os condicionantes associados ao grau de confiança da população brasileira nas Forças Armadas do país. A principal fonte de dados foi um survey nacional realizado pelo Ipea em 2011 no âmbito da pesquisa “Sistema de Indicadores de Percepção Social”, com foco em questões relacionados à defesa e segurança (SIPS – Defesa Nacional). A partir das informações coletadas no survey e à luz da literatura sobre o tema, construiu-se um conjunto de variáveis independentes, cujo impacto sobre a confiança foi então testado por meio de um modelo de regressão ordinal. A principal conclusão do trabalho é que, não obstante prevaleça um elevado nível de confiança nas Forças Armadas entre todos os estratos da população brasileira, essa confiança é impactada de forma distinta de acordo com os condicionantes socioeconômicos e regionais e a percepção dos indivíduos acerca da legitimidade e efetividade de determinadas políticas públicas.
Autores: José Szwako e Adrian Gurza Lavalle
O cenário brasileiro das relações entre Estado e sociedade civil tem se reconfigurado ao longo das últimas três décadas, suscitando esforços da literatura especializada para diagnosticar tais mudanças mediante deslocamentos analíticos e revisões de pressupostos. Em diálogo com um diagnóstico recente de conjunto que recoloca algumas teses importantes na literatura e segundo o qual essa reconfiguração é uma passagem de um período histórico de autonomia plena dos atores sociais para um momento de interdependência com o Estado, o artigo desenvolve quatro contra-argumentos amparados em deslocamentos teórico-analíticos e metodológicos que, junto à extensa pesquisa empírica, marcam avanços no debate do país sobre as relações socioestatais. Os contra-argumentos partem do pressuposto da mútua constituição, ou codeterminação, entre Estado e sociedade civil e revisam criticamente os argumentos sobre a emergência tardia da sociedade civil no Brasil, seu nascimento sob o signo de uma não relação com o Estado e os partidos políticos, bem como sobre o advento da interdependência com o Estado no período pós-constituinte. No seu todo, o conjunto dos contra-argumentos mostra os ganhos analíticos de uma perspectiva centrada nas interações socioestatais e de uma compreensão relacional de autonomia tanto no plano da prática dos atores quanto no plano da teoria.
Autores: Julian Borba e Ednaldo Ribeiro
Estudos recentes têm identificado redução do envolvimento dos cidadãos em formas tradicionais de participação, predominantemente relacionadas aos processos eleitorais e às instituições formais de representação, e ampliação do engajamento em modalidades de ação relacionadas ao protesto político. Diferentes fatores têm sido apontados como impulsionadores dessa contestação, alguns de ordem individual ou microssocial, como sentimentos, atitudes e valores. Focalizando o caso latino-americano, apresentamos neste artigo uma análise sobre a evolução de alguns indicadores de envolvimento nessas formas de ação ao longo de uma década. Adicionalmente, buscamos verificar quais atributos individuais atuam como determinantes desses comportamentos. Para tanto utilizamos a série histórica de dados produzida pela organização Latinobarómetro (1995-2007). Os resultados indicam que, apesar da relevância do descontentamento e do contexto de instabilidade política e econômica da região, as variáveis explicativas fundamentais do ativismo de protesto são aquelas ligadas aos recursos individuais políticos e cognitivos.
Autores: Alcides A. Monteiro e Mário Miguel Montez
O presente artigo debruça-se sobre o fenómeno da ação coletiva, usando como exemplo a intervenção protagonizada por um pequeno grupo de pessoas em defesa de um espaço de lazer e natureza denominada Mata Nacional do Choupal, situada em Coimbra (Portugal), contra a construção de um viaduto rodoviário. A análise deste pequeno grupo contextualiza a compreensão da relação entre a ação coletiva e o fenómeno da ameaça, mostrando como essa ação coletiva é condicionada por uma dimensão emocional, proveniente da relação do sujeito com os bens de que usufrui. Aponta-se para a existência de uma dinâmica determinante para a mobilização e para a desmobilização da ação coletiva, decorrente da relação entre a ameaça e a perceção de risco pelos elementos do grupo, que denominamos de “sentidos da ação coletiva”.