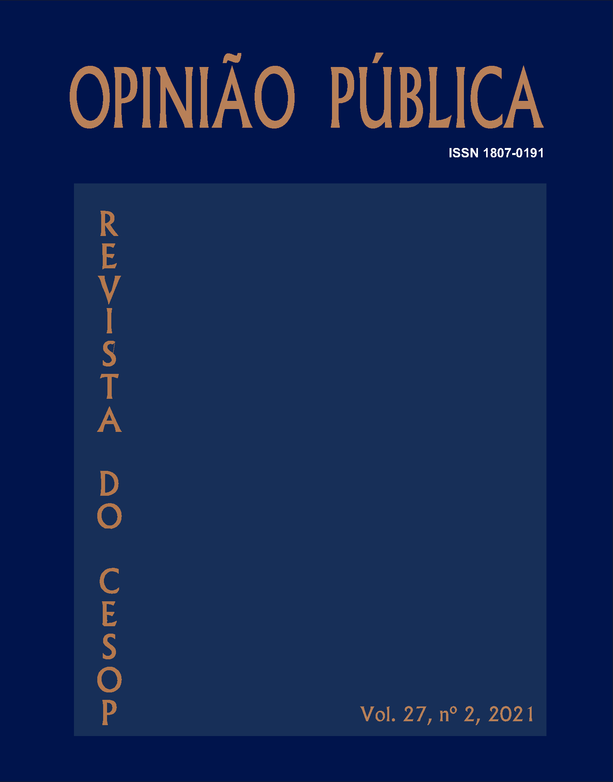Opinião Pública – Vol. 27, Nº 2 2021
Artigos desta edição
Autores: Rachel Meneguello e Pedro Neiva
Autores: Julian Borba e Gabriela Ribeiro Cardoso
Os recentes fenômenos relacionados à denominada crise das democracias, como o populismo e a polarização política, têm colocado novos desafios à pesquisa sobre legitimidade e apoio político. Diante dos reconhecidos limites do modelo eastoniano, desde a década de 1990, vários autores têm proposto novas perspectivas analíticas aos estudos sobre o fenômeno. No presente artigo, apresentamos e analisamos, além da concepção original de David Easton, cinco perspectivas recentes que têm trazido inovações relevantes aos estudos sobre apoio político. Na parte final, são discutidos os avanços e os limites dessa literatura para a compreensão de alguns dilemas das democracias contemporâneas, especialmente o crescente apoio do eleitorado a candidatos e partidos com plataformas políticas autoritárias em vários países do mundo.
Autores: Fernanda Nalon Sanglard, Lucia Santa Cruz e Juliana Gagliardi
Este artigo analisa como dois dos principais veículos da grande imprensa brasileira, O Globo e Folha de S. Paulo, abordaram o aniversário de 55 anos do golpe civil-militar de 1964. Parte-se de referencial teórico sobre memória e nostalgia e da análise de conteúdo aplicada às narrativas jornalísticas publicadas entre 26 de março e 2 de abril de 2019 para responder às seguintes questões: Houve nostalgia nas narrativas de atores políticos em relação à ditadura? Como as narrativas jornalísticas abordaram esse sentimento e se posicionaram sobre isso? Os resultados indicam a existência de memórias em disputa referentes à ditadura, o que se evidencia na fala de diversos atores. Muito embora os veículos não se alinhem com o sentimento nostálgico, a retrotopia foi identificada em 45% das declarações das fontes e o presidente Jair Bolsonaro foi o principal personagem dos textos jornalísticos.
Autor: Wladimir Gramacho
Este artigo apresenta um teste crucial da teoria das pistas partidárias (party cues) ao investigar a associação entre as posições legislativas do sistema de partidos políticos brasileiro, numa dimensão governo-oposição, e a avaliação governamental feita por seus simpatizantes. O contexto do teste é o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), marcado por sucessivas crises econômicas, o que tenderia a reduzir o poder de influência dos partidos sobre a opinião pública, frente ao tradicional poder explicativo das teorias do voto econômico e das funções de popularidade. Os resultados, baseados em modelos multiníveis a partir da análise de sete surveys, sugerem que as pistas partidárias funcionam inclusive num país como o Brasil e no contexto adverso escolhido nesse teste empírico. Os achados indicam ainda que as pistas partidárias são mais fortes segundo a relevância midiática de cada partido.
Autor: Camila Feix Vidal
O presente artigo dedica-se à compreensão da polarização partidária estadunidense. Por meio de uma metodologia que privilegia o uso de plataformas nacionais e de indicadores de gradação, busca-se evidenciar empiricamente aproximações e distanciamentos ideológicos entre os dois principais partidos políticos nos EUA e, consequentemente, a ascensão ou o declínio de ideologias como conservadorismo e liberalismo. O recorte temporal feito se dá entre 1936 e 2016. Os resultados nos indicam que há uma polarização partidária no período recente caracterizada, sobretudo, pela ascensão conservadora do Partido Republicano no que tange às questões sociais. Resta saber se esse processo beneficia a democracia ao representar a sociedade com todas as suas idiossincrasias ou a prejudica por contemplar extremos nem sempre característicos da sociedade como um todo.
Autores: Mariángeles Cifuentes Krstulovic e Patricio Navia
Após uma discussão teórica sobre o que explica a percepção de corrupção e a importância que as pessoas atribuem ao combate da corrupção como uma prioridade para a ação governamental, propusemos 4 hipóteses que testamos no Chile, uma democracia com baixa percepção de corrupção, mas com vários escândalos de corrupção nos últimos anos. Usamos 43 pesquisas nacionais (N = 63.768) do Centro de Estudos Públicos (CEP) entre 2000 e 2019 para estimar modelos logísticos binários. A probabilidade de citar a corrupção em detrimento de outras questões como prioridade para a ação governamental é menor entre os que aprovam o presidente, maior entre aqueles que mais consomem mídia para informação política, menor nos primeiros anos e maior nos últimos anos de cada governo, e menor entre as pessoas que consideram que o crime, o emprego e outras questões sociais devem ser uma prioridade para o governo.
Autores: Cibele Satuf e Jorge Alexandre Barbosa Neves
O trabalho passou por transformações que modificaram os valores e determinantes de seus significados, colocando em xeque sua centralidade. Este artigo investiga os significados do trabalho entre brasileiros, bem como a influência de elementos demográficos e estruturais nessa atribuição. Os significados do trabalho referem-se à interpretação individual, influenciada pelo contexto social, do trabalho e do que ele representa. Utilizou-se a amostra brasileira do World Values Survey. A influência de características socioeconômicas e estruturais foi analisada via modelagens de equações estruturais (MEE). O modelo foi bem ajustado, tendo um coeficiente de determinação de 0,951. Os resultados descritivos indicaram alta valorização do trabalho e forte percepção deste como obrigação social. Os resultados da MEE indicaram que homens atribuem maior significado ao trabalho em comparação com mulheres e que o aumento da idade influencia a atribuição de significados do trabalho. A criatividade, a intelectualidade e a independência nas atividades executadas têm influência indireta (via nível socioeconômico - NSE) e negativa na percepção de significados do trabalho. As análises priorizaram a articulação entre aspectos sociais e econômicos com o processo de significação do trabalho, perspectiva pouco explorada na produção científica brasileira, mas fundamental para que o fenômeno seja compreendido de maneira mais ampla, especialmente em sociedades estratificadas, como o Brasil.
Autores: Flávio Pinheiro, Ivan Filipe Fernandes e Maria Herminia Tavares de Almeida
O artigo discute os determinantes das opiniões dos brasileiros sobre a integração da economia brasileira aos mercados globais, analisando dados de survey nacional, realizado no âmbito do projeto “O Brasil, as Américas e o mundo”. Mostramos que os brasileiros, em boa medida, são favoráveis à abertura internacional de nossa economia e que suas atitudes são guiadas tanto por motivações econômicas como por ideias e valores políticos. A baixa exposição da economia brasileira à concorrência externa parece contribuir para a existência de opiniões favoráveis a maior acesso a bens importados. A posição ideológica, por sua vez, age como um filtro dessas percepções independentemente das condições econômicas dos indivíduos. Assim, evidências indicam que a posição do indivíduo como consumidor, sua ideologia política e suas visões nacionalistas influem em suas opiniões sobre globalização e livre comércio. Os resultados confirmam estudos anteriores sobre o mesmo tema feitos em países em desenvolvimento.
Autores: Telma Hoyler, Lucas Gelape e Graziele Silotto
Os legislativos municipais têm sido interpretados por meio de uma transposição teórico-argumentativa do cenário federal, tendo projetos de lei e o padrão de distribuição de votos como focos empíricos privilegiados para testar a hipótese distributivista. Porém, essas são proxies imperfeitas para testar a existência da atuação territorial de vereadores. Para investigar o tema, introduzimos de forma inédita a análise das indicações parlamentares em São Paulo, bem como seu estudo a partir de uma abordagem multimétodos, incluindo entrevistas em profundidade, observação participante e teste de hipótese de autocorrelação espacial local. Argumentamos que a atuação territorial de vereadores ocorre por meio de uma estrutura capilarizada de brokers, que alimenta e constrói vínculos ao longo de todo o mandato. Nada disso é capturável pelos métodos tradicionais que tratam do tema.
Autor: Marília Silva de Oliveira
O objetivo deste artigo é aproximar analiticamente duas literaturas que geralmente caminharam apartadas: a de movimentos sociais e a de partidos políticos. Propomos um debate sobre os processos de formação de identidade coletiva e de identidade partidária junto com elementos que definem a escolha de estratégia dos movimentos sociais e dos partidos políticos. Argumentamos que questões de identidade e de estratégia terão peso importante para estabelecer as interações entre movimentos sociais e partidos políticos e que tais interações podem ocorrer a partir da intermediação de lideranças sociopartidárias influentes tanto no campo social quanto no partidário. A discussão teórica foi desenvolvida com base em estudo de caso que observou a articulação de líderes do movimento ambientalista com partidos políticos, especialmente com o Partido dos Trabalhadores, desde a década de 1980 até o processo de formação da Rede Sustentabilidade. A intermediação da líder Marina Silva entre mundo social e mundo partidário foi fundamental para que lideranças do movimento ambientalista adentrassem os partidos políticos e suas arenas: legislativa, governamental e eleitoral. Concluímos que a relação prévia do movimento ambientalista com o Partido dos Trabalhadores foi crucial para a decisão de ambientalistas se engajarem na formação de um novo partido, a Rede Sustentabilidade.
Autores: Carla Giani Martelli e Rony Coelho
O principal objetivo deste artigo é avançar na compreensão do termo efetividade utilizado pelo campo da participação para avaliar os resultados produzidos pelas instituições participativas. A revisão bibliográfica e a pesquisa com um corpus de 71 papers sobre a temática da efetividade da participação, apresentadas em quatro edições do “Encontro Internacional Participação, Democracia e Políticas Públicas”, mostraram a multiplicidade de sentidos que o termo pode assumir. Defendemos a ideia de que os trabalhos que se propõem a falar de efetividade devem definir com precisão o que pretendem avaliar, já que da clareza do objeto de avaliação dependem as conclusões sobre a validade dos espaços participativos e os estímulos necessários para sua continuidade.
Autores: Catarina Helena Cortada Barbieri, Luciana de Oliveira Ramos, Ivan Osmo Mardegan, Juliana Fabbron Marin Marin e Lais Menegon Youssef
Neste artigo, analisamos o uso de ferramentas do Facebook em campanhas eleitorais de candidatas ao cargo de deputado federal por São Paulo com o objetivo de avaliar se esse uso mitiga ou reproduz desigualdades socioeconômicas estruturais que elas vivenciam em sociedade. Acompanhamos o uso do Facebook durante a campanha eleitoral de 2018 visando entender especificamente se e como essa rede social foi utilizada por essas candidatas. A partir de uma base de dados com mais de 55 mil postagens de 465 candidatas, incorporamos um olhar interseccional sobre as múltiplas identidades dessas mulheres e correlacionamos seus marcadores sociais (estrato sócio-ocupacional, grau de instrução, idade e raça/cor) com o uso do Facebook durante a campanha eleitoral. Os resultados das análises quantitativas apontam que, em vez de mitigar as desigualdades socioeconômicas preexistentes, essa rede social acabou por reproduzi-las ao longo da campanha.
Autores: Rocio Zamora Medina, Salvador Gómez García e Helena Martínez Martínez
No contexto da politainment online, o uso de memes políticos como uma fórmula humorística e criativa para configurar a imagem política tornou-se uma prática cada vez mais comum em campanhas eleitorais. Especialmente por ocasião dos debates eleitorais, a disseminação de memes políticos nas redes sociais conquistou o interesse dos acadêmicos. Este trabalho leva em consideração as taxonomias estabelecidas sobre os tipos de memes políticos e analisa sua capacidade de persuasão. Especificamente, a pesquisa inclui uma análise quantitativa dos principais memes espalhados no Twitter durante os dois debates eleitorais que ocorreram na campanha eleitoral de 2019 na Espanha: 4N e 7N. O estudo baseia-se na perspectiva do enquadramento integrado (textual-visual) e no estudo do poder persuasivo dos memes com base na importância de cada um dos elementos da retórica (pathos, ethos e logos), com o objetivo de analisar, também, as consequências de sua viralidade e repercussão no público social.