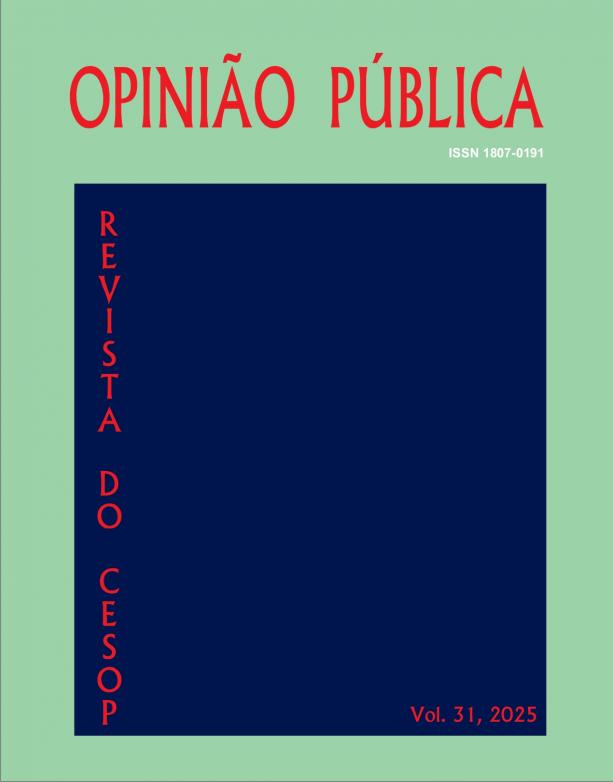Opinião Pública – Vol. 31, Nº 1 2025
Artigos desta edição
Autor: Lea Heyne
Por que os perdedores gostam menos da democracia do que os vencedores? O fato de o estatuto social ter um impacto no apoio à democracia é, embora empiricamente estabelecido, frequentemente ignorado na literatura. Este artigo analisa os efeitos do estatuto social subjetivo e objetivo nas expectativas e avaliações da democracia por parte dos cidadãos. Os resultados mostram que um estatuto baixo leva os cidadãos a valorizar as dimensões democráticas de forma diferente - preferem a justiça social aos critérios liberais. Além disso, os cidadãos com baixo estatuto também avaliam o desempenho do seu próprio sistema democrático em todas as dimensões de forma significativamente mais crítica do que os seus homólogos com estatuto mais elevado. Estes dois efeitos combinados criam uma maior “distância” entre as expectativas e as avaliações dos cidadãos de baixo estatuto, especialmente na dimensão social, tornando-os mais propensos à insatisfação democrática. Além disso, a posição social subjetiva tem um efeito significativamente mais forte do que a posição objetiva, apontando para a relevância das percepções de estatuto para as atitudes democráticas.
Autores: Marcelo de Souza Marques e Vanessa Marx
Desde o ciclo de protestos pelo qual passou o Brasil (2013-2016), temos observado mais claramente a presença de novos sujeitos coletivos em cena e discutido suas possíveis novidades. Neste artigo, abordaremos os coletivos culturais contemporâneos a partir de uma abordagem processual-relacional para refletirmos sobre o que pode ser compreendido como novidades nessas experiências organizacionais. Os dados da pesquisa nos permitiram destacar inovações concernentes à elaboração de novos padrões de interação com a esfera estatal, às múltiplas linguagens artístico-culturais e às múltiplas agendas. Além da revisão da literatura, a metodologia de pesquisa consistiu em um estudo qualitativo estruturado a partir da análise de entrevistas com ativistas e dos dados de um survey com coletivos culturais no Espírito Santo. Os resultados indicam que, embora os coletivos não representem um novo fenômeno sociológico, podem ser compreendidos como uma novidade na medida em que (re)surgem contemporaneamente resgatando métodos, formas e práticas organizacionais na demarcação do seu próprio modelo organizacional.
Autor: José Veríssimo Romão Netto
Apresenta-se, neste artigo, uma reflexão sobre as relações entre democracia e políticas culturais. Enfatiza-se que não há relação necessária entre políticas culturais e democracia, e que, em democracias, as políticas culturais assumem formas institucionais específicas de governança que envolvem a participação dos cidadãos ao longo do ciclo da política. Com apoio no arcabouço epistemológico do neoinstitucionalismo ideacional e a ferramenta da análise de conteúdo, analisam-se as ideias contidas nos programas de governo e discursos de vitória de Bolsonaro (2018) e de Lula (2022), bem como os contextos políticos e imagens desses momentos. Argumenta-se que as “convicções causais” em seus programas influíram diretamente no desenho organizacional do Ministério da Cultura, em ambos os governos (2018; 2022), e geraram duas imagens de políticas culturais: a cultura como medo e a cultura como esperança.
Autores: Arthur Ituassu, Marcelo Alves, Aline Lopes e Raul Pimentel
A eleição de 2018 trouxe novo recorde de renovação à Câmara dos Deputados. Quatro anos depois, 64% dos eleitos eram novatos ou estavam no fim do primeiro mandato. Essa renovação ocorreu em meio ao surgimento de atores políticos não tradicionais fortemente relacionados com as mídias digitais. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é analisar como esse grupo renovador se relacionou com as ferramentas on-line no pleito de 2022. Fazemos isso a partir do debate equalização/normalização, que discute os efeitos das mídias digitais sobre a competição eleitoral. Investigamos as campanhas digitais do grupo renovador procurando sinais de equalização, a partir da análise estatística de interações nas mídias sociais e do investimento em anúncios digitais. Nossos resultados mostram que, em geral, a renovação está relacionada às mídias digitais, mas nem toda renovação pode ser considerada equalização.
Autores: Natália Martino e Raquel Magalhães
As ouvidorias objetivam o controle material dos atos do Estado. Para tanto, precisam ter algumas prerrogativas, como autonomia e participação social, de forma a se configurarem como agências de controle externo. Muitos desses órgãos, porém, foram construídos a partir do paradigma privado e lhes faltam tais prerrogativas. Este artigo parte dessa perspectiva teórica para começar a suprir uma lacuna de conhecimento acerca das ouvidorias penitenciárias no Brasil. Criadas a partir do início deste século, esses órgãos de controle penitenciário se espalharam pelo país, mas seus desenhos institucionais são variados e ainda desconhecidos da academia. Por meio de entrevistas, análise documental e organização de dados obtidos via Lei de Acesso à Informação propõe-se uma descrição de 19 das 21 ouvidorias estaduais, seguida de uma classificação delas em uma escala que vai do paradigma privado ao público.
Autores: Sue Iamamoto, Rani Teles e Luciano Pita
Este artigo analisa as consequências das narrativas sobre os protestos de junho de 2013 em trajetórias militantes, a partir de 20 entrevistas em profundidade com jovens ativistas de esquerda, de direita e do movimento negro da área da cultura na cidade de Salvador. Identificamos que as interpretações das Jornadas de Junho consolidaram o que chamamos de “anti-Junho”, uma imagem que guiou esses jovens nos protestos entre 2015 e 2018 apontando outras formas de ativismo, como a adoção de atos de rua menos contenciosos por parte da direita, a institucionalização das pautas da esquerda militante e o afastamento do movimento negro das disputas políticas nacionais. O caso analisado demonstra como as narrativas de protestos informam cadeias de causalidade que explicam efeitos não intencionais nas trajetórias militantes.
Autores: Luís Felipe Guedes da Graça, Cíntia Pinheiro Ribeiro de Souza e Tiago Daher Padovezi Borges
O artigo explora a possibilidade de que títulos ligados à religião ou às forças de segurança do Estado sirvam de atalho informacional para o eleitor, o que beneficia o candidato que é seu portador. A expectativa é que esses títulos funcionem de maneira semelhante a identidades partidárias bem construídas, sugerindo, de forma pouco custosa, posições e valores das candidaturas aos eleitores. Nossa hipótese central é de que usufruir dessas identidades sociais oferece retornos eleitorais para os candidatos. Para isso, a partir dos dados da eleição de deputado federal e estadual de 2018, testamos modelos com bancos completos e montados via matching. Nossos achados indicam que, para as forças de segurança do Estado, pelo menos nas eleições de 2018, há efeitos eleitorais fortes. Já para os candidatos religiosos, não conseguimos encontrar efeitos discerníveis de zero, o que contradiz achados recentes da literatura.
Autor: Lucas Nascimento Ferraz Costa
O objetivo deste artigo é identificar padrões e particularidades na constitucionalização de direitos sociais ao longo da história brasileira, quando comparada com amostra composta por outros 83 países. Mostramos que o caso brasileiro é singular em relação à desproporcionalidade com que os direitos do trabalho foram constitucionalizados em detrimento dos demais direitos sociais, coletivos ou individuais, dissociados da condição de trabalho formal, padrão superado apenas a partir de 1988, quando o Brasil se equiparou com a média mundial. A análise foi desenvolvida por meio de um banco de dados gerado pela aplicação do Constitutional Social Score Model (CSSM), que traduz em scores a probabilidade de um direito social ser efetivado em função dos dispositivos presentes em uma Constituição.
Autor: Eduardo Grin
Este artigo sobre o lobby intergovernamental no Brasil analisa a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) de 2001 a 2018. Utiliza pesquisa documental, jornalística, survey e entrevistas e testa três hipóteses. A primeira é se o contexto econômico, político e social e as políticas federais induz o lobby local para buscar proteção regulatória e financeira do governo central. A segunda é se o número de cidades associadas influencia a relação com os líderes das entidades, em parte confirmado. Na CNM e FNP há temas que geram acordo e desacordo e na primeira há mais unidade interna. A terceira é arenas de lobby são efetivas enquanto geram benefícios, o que foi testado com o Comitê de Articulação Federativa, na qual a CNM e FNP participaram, mas que gradualmente perdeu status. Os achados mostram a utilidade das hipóteses para estudar o lobby municipal.
Autor: Verónica González-List
Vários autores analisam o contraste entre a forma como a mídia tradicional enquadra as notícias e o que circula nas mídias sociais. Este artigo aborda esta questão, utilizando uma metodologia que permitiu teorizar sobre a interação política desarticulada em X. Com entrevistas qualitativas e análises com redes semânticas, estabeleceu-se a categoria teórica sobre a oposição entre os enquadramentos utilizados pelos meios de comunicação tradicionais, e os de X, observados pelos desarticulados. Os desarticulados são pessoas comuns, usuários do X desconhecidos da mídia, que interagem politicamente na rede sem hashtags e tendências, fora dos períodos eleitorais, e que passam despercebidos pelos estudos sociais. A teoria fundamentada construtivista foi aplicada para analisar os dados obtidos nas entrevistas com os desarticulados. Um dos resultados mostra que o enquadramento das notícias na mídia tradicional é oposto ao que circula nas redes sociais entre usuários desarticulados. Este artigo é sobre essa descoberta.
Autores: Camila Feix Vidal e Giovanna de Lima Pereira
Este artigo objetiva analisar a atuação da Freedom House como aparelho privado de hegemonia dos Estados Unidos na desestabilização do governo Hugo Chávez na Venezuela. Mobilizando abordagens gramscianas, apresenta como o governo estadunidense instrumentalizou a Freedom House fazendo uso da promoção de ‘democracia’ e de indicadores de ‘liberdade’, para capacitar círculos oposicionistas e desestabilizar o projeto socialista na Venezuela. Para isso, a pesquisa se utilizou da análise dos relatórios anuais dessa instituição no período entre 1999 e 2013 e de documentos de agências governamentais. Trabalhou-se com o software Iramuteq para o uso da Lexicografia, da Análise de Similitude e da Classificação Hierárquica Descendente. Como resultado, evidencia que a Freedom House atuou junto a agências governamentais estadunidenses contribuindo e legitimando medidas hostis em relação ao governo chavista, além de capacitar a oposição na Venezuela.
Autores: Thiago Moreira e João Cardoso L. Camargos
O presente artigo investiga a estabilidade e a consistência da ideologia política no Brasil, especialmente após o crescimento da extrema-direita e a polarização causada por Jair Bolsonaro. Utilizamos análises de aprendizado de máquinas, dados em painel e técnicas de redução de dimensionalidade para avaliar o autoposicionamento ideológico dos eleitores e a estabilidade de suas crenças. Os resultados mostram um aumento na identificação ideológica durante o período bolsonarista, mas revelam que essa ideologia ainda é volátil e pouco consistente. Os achados desafiam a ideia de que o fortalecimento da identificação ideológica leva a um eleitorado mais coeso e estável. O artigo também contribui para a literatura, ao explorar como as percepções ideológicas se organizam no Brasil, e apresenta inovações metodológicas para pesquisas futuras.
Autor: João Feres Júnior
Este artigo contribui para o debate sobre o bolsonarismo ao identificar, por meio da clusterização de dados de comportamento político, os principais perfis do eleitorado de Bolsonaro em 2022. A análise revela a existência de grupos de bolsonaristas com combinações distintas de valores morais, posições econômicas e preferências políticas, contrariando leituras que concebem o fenômeno como como um discurso reacionário ou conservador integrado e coerente. Ao mesmo tempo, nossos resultados também avançam em relação à sociologia interpretativa, que identifica múltiplos tipos de bolsonaristas, mas não distingue os perfis majoritários dos marginais. O trabalho pretende, assim, se somar aos estudos do comportamento político, ampliando-os ao identificar padrões inéditos de combinações de preferências entre os eleitores de Bolsonaro.
Autores: Eryka Galindo, Marco Antonio Teixeira, Melissa de Araújo, Lucio Rennó, Larissa Loures, Milene Pessoa e Renata Motta
O artigo analisa a situação de insegurança alimentar (IA) e segurança alimentar (SA) no Brasil, destacando seus condicionantes e a ocorrência desigual entre grupos populacionais. A partir de dados de uma pesquisa de opinião de 2020, o conceito de desigualdades alimentares é utilizado para interpretar os resultados, considerando três dimensões: multidimensionalidade, escalas espaciais e marcadores interseccionais. Também é examinado o papel do Bolsa Família e do Auxílio Emergencial na mitigação da IA. Conclui-se que as crises econômica e política, agravadas pela pandemia, intensificaram a IA, especialmente entre grupos vulneráveis, e que, apesar de políticas públicas atenuarem seus efeitos, foram insuficientes para mitigar a IA, o que sugere a necessidade de políticas mais robustas.