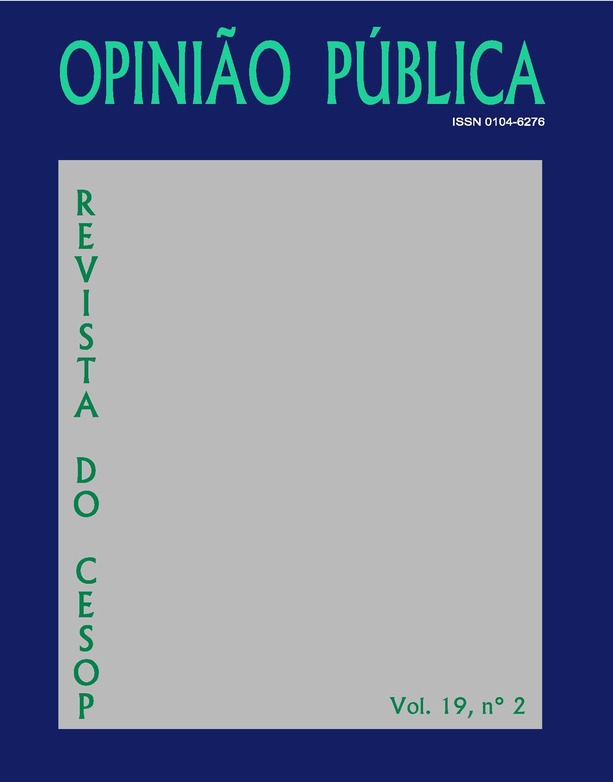Opinião Pública – Vol. 19, Nº 2 2013
Artigos desta edição
Autor: Jorge Lanzaro
Autor: Thiago Marzagão
Por que municípios próximos tendem a ter resultados eleitorais semelhantes? Testam-se aqui três possíveis explicações: as interações sociais entre residentes de municípios próximos; a concentração das campanhas eleitorais em determinadas regiões em detrimento de outras; e as similaridades socioeconômicas observadas entre municípios próximos. Com dados das eleições de 2010 e ferramentas de econometria espacial, a primeira hipótese foi rejeitada; a segunda hipótese foi corroborada preliminarmente; e a terceira hipótese foi corroborada inequivocamente. Os dados mostram ainda que Dilma Rousseff "herdou" a base geográfica de Lula e que essa base é bastante diferente da do PT, que continua sobretudo um partido urbano.
Autor: Frederico Batista Pereira
O artigo analisa o impacto da desigualdade de sofisticação política sobre as preferências políticas dos cidadãos. Após uma discussão sobre o conceito e a mensuração da sofisticação política, examina-se seus principais determinantes utilizando dados de uma pesquisa de painel realizada em Caxias do Sul e Juiz de Fora ao longo de 2002. Em seguida, o artigo examina quatro hipóteses da literatura acerca do efeito da sofisticação política sobre a maneira como os eleitores processam informações e opinam: 1) eleitores mais sofisticados apresentam maior estruturação ideológica em suas opiniões do que eleitores menos sofisticados; 2) eleitores mais sofisticados possuem opiniões políticas mais estáveis ao longo do tempo do que os politicamente menos sofisticados; 3) eleitores mais sofisticados adquirem mais informações políticas ao longo do tempo do que eleitores menos sofisticados, e; 4) eleitores mais sofisticados emitem opiniões com maior frequência do que eleitores menos sofisticados. As análises no artigo dão amplo suporte a essas hipóteses. Por fim, discute-se as implicações dos achados para os estudos de opinião pública e voto no Brasil.
Autor: Robert Bonifácio
O artigo investiga os perfis de cidadãos associados favoravelmente à ideia do “rouba, mas faz”, que significa concordância com a conduta de políticos que incorrem em atos de corrupção, mas que realizam um governo entendido como satisfatório. Utiliza-se como material empírico dois surveys de abrangência nacional, realizados em 2002 e 2006, e os principais resultados obtidos com as análises dos dados apontam para o forte rechaçamento da ideia de “rouba, mas faz” e para a importância explicativa de variáveis que indicam avaliação e desconfiança institucional.
Autor: Ana Lúcia Henrique
Há uma crise mundial de credibilidade do Poder Legislativo. Para a literatura culturalista, ela decorre principalmente da reprovação ao desempenho dos representantes e da ausência de “responsividade” das instituições às demandas de cidadãos cada vez mais escolarizados, exigentes e críticos. Nesta perspectiva, o conhecimento do papel institucional é determinante para a cidadania ativa e para a qualidade do regime e as ações de educomunicação podem aumentar o conhecimento, a familiaridade e a confiabilidade das instituições. O artigo analisa as orientações dos visitantes ao Congresso Nacional para avaliar o impacto de programas de visitação na percepção institucional e, por esta via, na qualidade do regime. As conclusões abrem novas perspectivas sobre o papel do Legislativo como educador para a cidadania pela análise das percepções sobre o desempenho dos parlamentares, a adesão à democracia e a confiança política, em amostras antes e depois da visita.
Autores: Thiago Sampaio e Marina Siqueira
Nas últimas três décadas, programas de educação cívica tornaram-se recorrentes em várias partes do mundo. Tais programas possuem como princípio formulador o compromisso de imbuir nos envolvidos valores democráticos, desmistificar o mundo da política e fomentar o interesse sobre a atuação do Legislativo. Este artigo analisa o processo cognitivo de aprendizagem dos participantes do principal programa de educação cívica desenvolvido em Minas Gerais, o Parlamento Jovem (PJ), e também discorre sobre os motivos que levam programas de educação cívica como o PJ a obterem resultados opostos aos esperados. Além disso, apresenta os meandros da construção do conhecimento político nos participantes e o impacto do PJ. A análise parte de dados obtidos na pesquisa quase-experimental “O Parlamento Jovem como espaço de socialização política?”.
Autor: Glauco Peres da Silva
O objetivo deste artigo é avaliar empiricamente a competição eleitoral para o cargo de deputado federal no Brasil e a sua dimensão regional, que se apoia nos conceitos de distritos eleitorais informais (AMES, 2001; 2003) ou grotões políticos (HUNTER E POWER, 2007; ZUCCO, 2008). Este artigo considera as eleições entre 1994 e 2010 e utiliza um indicador de desequilíbrio (TAAGEPERA, 1979) em análise temporal como critério básico da avaliação do controle regional do voto, já que o Número Efetivo de Partidos (NEP) não capta a descentralização da disputa eleitoral. Os resultados indicam que a ausência de competição não é regra da disputa política no país, que a tese dos distritos eleitorais carece de evidência empírica e que os políticos que evitam a competição nem sempre se elegem e não são os mesmos em uma mesma localidade ao longo do tempo.
Autores: Wagner Pralon Mancuso, Carolina Uehara, Anita de Cássia Sbegue e Caroline Miranda Sampaio
O objetivo deste artigo é analisar os fatores determinantes dos padrões de carreira política adotados pelos deputados federais paulistas no período das legislaturas 49ª (1991-1995) à 53ª (2007-2011). Com uso de técnicas estatísticas tais como teste qui-quadrado, teste exato de Fisher e regressão logística, o artigo conclui que: i) a opção de saída da vida política está associada aos níveis de concentração eleitoral e competitividade local bem como ao perfil de atuação parlamentar; ii) o êxito em campanhas de reeleição está associado ao acúmulo de capital político, ao perfil de atuação parlamentar e à fidelidade partidária; e iii) o êxito na disputa pela chefia de executivos municipais está associado ao nível de competitividade eleitoral local.
Autor: Mariana Batista
Qual o papel da Presidência e dos Ministérios na produção legislativa do Poder Executivo? Com base em uma abordagem transacional sobre a relação entre o Presidente e os ministros, busca-se, a partir da identificação da autoria das iniciativas legislativas do Executivo, elencar os fatores que influenciam o Presidente a delegar decisões legislativas para os ministérios ou centralizar as decisões na Presidência. As hipóteses, testadas através de um modelo logístico para eventos raros, são que o aumento da distância ideológica, do número de ministros envolvidos na decisão e da institucionalização da Presidência aumenta a chance de centralização, enquanto o aumento na força legislativa dos partidos dos ministros envolvidos diminui a chance de centralização. Os resultados indicam que tais fatores importam para entender o processo de formulação legislativa dentro do Executivo e a escolha que o Presidente faz.
Autores: